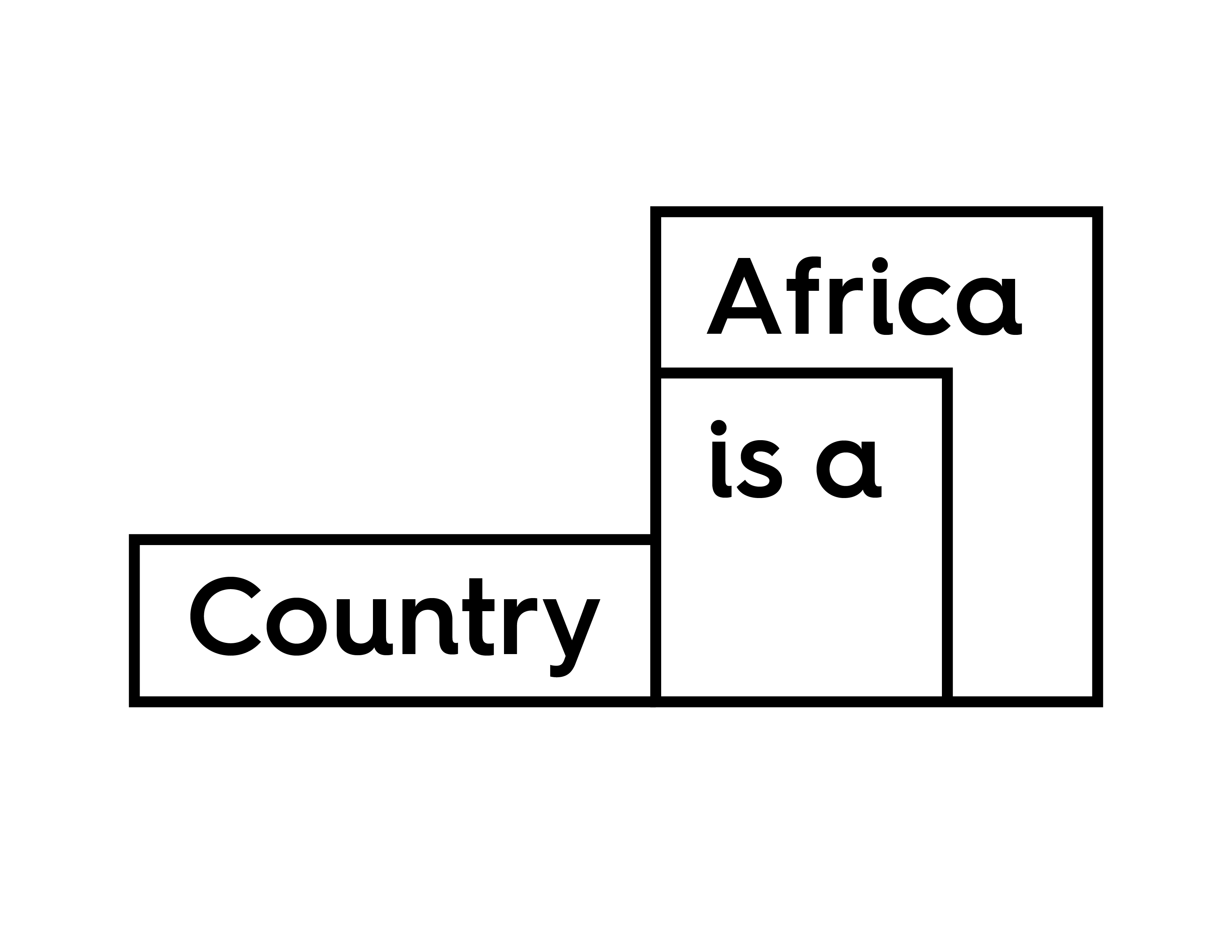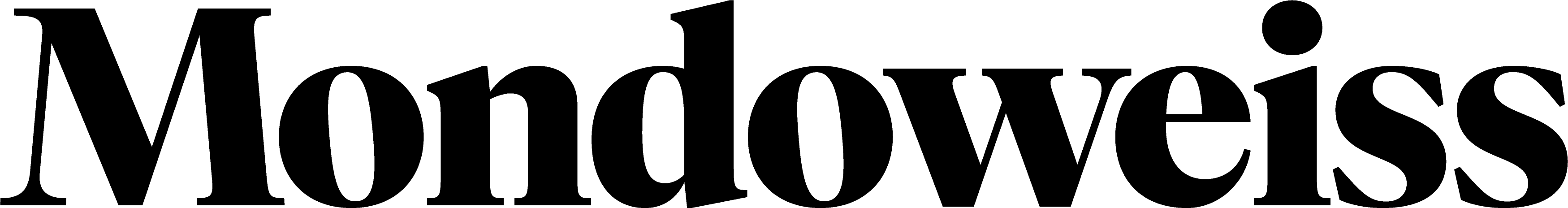Nota editorial: em 16 de agosto, a África do Sul celebrou o 10º aniversário do "Massacre de Marikana". O crime marcou uma virada trágica para o país, revelando o quão enraizada estava a fatal violência empresarial e estatal contra o povo na África do Sul democrática, tal como ocorrera durante o Apartheid. Este artigo é parte da série "Marikana 10 anos depois" publicada por Africa Is A Country, parceira da Wire, no 10º aniversário deste acontecimento fatídico.
Se fôssemos escolher o momento em que se acabou a narrativa da África do Sul pós-apartheid como nação, com todas as suas falhas, e geralmente tropeçando na direção certa, nenhum se destacaria tão claramente quanto o Massacre de Marikana. Na tarde de quinta-feira, 16 de agosto de 2012, trinta e quatro mineiros em greve em uma mina de platina no noroeste do país foram abatidos a tiros pela polícia ao vivo, pela televisão.
Nos dez anos que se seguiram ao massacre, o país tornou-se mais pobre (o PIB per capita diminuiu de pouco mais de 8.000 dólares para menos de 7.000 dólares), as funções básicas do governo entraram em colapso em vastas extensões por todo o país, o movimento trabalhista perdeu força e ficou mais dividido, e a ameaça de violência política contra os ativistas é cada vez mais evidente. Este último ponto fica ainda mais aparente se considerarmos que, desde o massacre, ao menos 22 mineiros e ativistas sindicais de Marikana e do Cinturão de Platina foram assassinados, como relataram Luke Sinwell e Nicholas Smith. A violência em curso emerge no contexto do agravamento das condições econômicas, dentre as quais a mais evidente é o aumento do desemprego - hoje perto de 50 por cento - e as condições entre as comunidades do Cinturão de Platina têm-se deteriorado.
Na língua tisuana, a palavra nkaneng, nome do assentamento informal onde vivem os trabalhadores da mina de Marikana e suas famílias, significa literalmente "lugar difícil", um significante que aponta as zonas dispersas do Cinturão de Platina que ainda carecem dos serviços municipais mais básicos. Ela é uma das milhares de comunidades do gênero no país, onde as pessoas ainda estão à espera das moradias solicitadas na virada para a democracia em 1994.
Cada semana há relatos de novas atrocidades. A Insurreição de julho do ano passado (quando aliados e apoiadores do desacreditado ex-presidente Jacob Zuma paralisaram a África do Sul mediante uma sabotagem econômica) mostrou que o país enfrenta a crescente ameaça representada pelas máfias políticas e pela política etnonacionalista de direita que o Estado, impotente, está claramente mal equipado para gerir. Diante disto, a esquerda tornou-se, no mínimo, ainda mais fragmentada e impotente. Mas o que isto tudo tem a ver com Marikana?
Se nos perguntarmos como chegamos à África do Sul de 2022 após a captura do Estado, a Insurreição de Julho, a tragédia de Esidimeni Vida (conhecida como Marikana Médica), o confinamento, a brutalidade policial necessária para fazer cumprir regulamentos absurdos, e passar por apagões elétricos regulares? Marikana é um bom lugar para começar.
Marikana foi o momento em que as instituições centrais da democracia sul-africana - e não apenas o Estado - falharam. Isto inclui os dias anteriores ao massacre, em que dez mortes ocorreram com a tensão latente na mina: seis mineiros, dois seguranças privados da Lonmin e dois policiais. Foi o pior massacre do gênero na ordem democrática, que viu a polícia (que pertencia à mesma federação sindical que muitos dos mineiros em greve) matar outros trabalhadores sob a égide do governo do Congresso Nacional Africano (ANC), que prometera um futuro melhor para os trabalhadores.
A principal característica redentora da Comissão Farlam, criada para investigar as mortes em Marikana e que custou ao país cerca de R153 milhões (9 milhões de dólares), foi o levantamento de provas relevantes para explicar as causas do massacre, entre as que se encontram acusações à Lonmin e à polícia. Nos seminários públicos que fizeram parte da segunda fase da Comissão, para investigar as causas a longo prazo do massacre de Marikana, apresentações de especialistas detalharam o problema crônico de sindicatos como a União Nacional dos Trabalhadores Mineiros (NUM) não terem atendido às exigências dos seus membros, e a incapacidade do marco regulatório trabalhista do país de abordar as condições de trabalho dos mineiros.
Shaeera Kalla salienta nesta série que o relatório final é prova da ganância da Lonmin (a empresa proprietária da mina), e confirma que ela infringiu a lei e não cumpriu com a sua obrigação legal de proporcionar alojamento aos empregados, de acordo com o seu Plano Social do Trabalho, condição que lhe havia garantido o seu direito de minerar.
Contudo, apesar das evidências das questões estruturais subjacentes, a Comissão apontou como a principal causa do massacre a decisão dos mineiros de entrar em greve, o que estaria fora do quadro legal de negociação. A Comissão sublinhou repetidamente que a greve era "ilegal" e os grevistas brandiam armas perigosas, em contravenção à Lei das Armas Perigosas, e avançou a narrativa do Estado de que os mineiros constituíam uma turba ameaçadora e indisciplinada que tinha se envolvido em rituais muti (de bruxaria) em preparação para o confronto policial.
No rescaldo da atrocidade, com algumas notáveis excepções, a sociedade civil - das ONG à mídia, aos movimentos sociais e sindicatos - não conseguiu responsabilizar o governo nem prestar uma solidariedade significativa às vítimas do massacre, optando pelo silêncio ou, em alguns casos, reproduzindo ativamente as justificativas do Estado. A falha da mídia é ainda mais imperdoável pelo fato de o massacre ter sido transmitido ao vivo pela televisão.
Em vez disso, foi necessário o trabalho de alguns jornalistas e investigadores dedicados para que a verdadeira história do que ocorreu naquele dia fosse revelada ao público. Demorou ainda mais tempo para que o documentário Miners Shot Down [Mineiros assassinados] e as histórias da Comissão Farlam mudassem a consciência pública sobre o que se passou naquele dia. Mesmo assim, a tentativa explícita do Estado de reprimir estas narrativas permaneceu, em parte mediante tentativas de cultivar a amnésia política. Num ato de protesto e solidariedade em agosto de 2016, o documentário foi projetado nas paredes dos escritórios da SABC em Sea Point, Cidade do Cabo, enquanto os ali reunidos exigiam justiça.
Dez anos mais tarde, a justiça continua a ser evasiva ante a maioria dos sobreviventes de Marikana. Embora cerca de 35 famílias tenham sido indenizadas em cerca de R70 milhões ($4 milhões de dólares); um grupo maior, de mais de 300 mineiros feridos durante o tiroteio, ainda tenta obter uma indemnização de R1 bilhão ($58 milhões de dólares), e o avanço mais recente neste caso foi a decisão do Supremo Tribunal de que o presidente do país, Cyril Ramaphosa, poderia ser considerado responsável pelos acontecimentos que levaram ao massacre devido ao seu papel como acionista na Lonmin e também como vice-presidente (cargo que ocupou por quatro anos no governo de Jacob Zuma), mas não pelas mortes. No entanto, provar a responsabilidade civil cabe aos mineiros, algo que será difícil fazer. No entanto, se for bem sucedido, isso contrariará a Comissão Farlam, que exonerou Ramaphosa de qualquer responsabilidade em relação à escalada de tensão e ao eventual tiroteio.
Há também o julgamento em curso pelo assassinato de cinco pessoas que morreram em Marikana em 13 de agosto de 2012 - dois mineiros e dois agentes da polícia - e o julgamento do antigo subcomissário de polícia da província Noroeste, o major-general William Mpembe e outros agentes da polícia. Mpembe e seus colegas enfrentam cinco acusações de homicídio e tentativa de homicídio, além da violação da Lei da Comissão, por prestarem informações falsas à comissão de inquérito. Dez anos depois, o interesse público quase se dissipou. Aqui a velha máxima legal não poderia ser mais verdadeira: justiça atrasada é justiça negada.
Como as batalhas políticas são travadas mediante prolongados processos judiciais (nunca sem Dali Mpofu, a versão sul africana de Saul Goodman, mas sem as vitórias legais), os trabalhadores do Cinturão de Platina enfrentam a exploração contínua, um governo disfuncional, violência política, privação material e esquemas de empréstimo predatórios contínuos dos mashonisas (agiotas ou prestamistas) e as empresas de empréstimo de dia de pagamento que criam ciclos de endividamento e insegurança.
Os controles e equilíbrios da democracia, da Procuradoria Nacional ao Parlamento, não conseguiram responsabilizar o governo e a polícia. Isto se deu embora um inquérito subsequente tenha descoberto que o antigo comissário de polícia - Riah Phiyega - deveria ser responsabilizado pela morte dos 34 trabalhadores da mina por comandar a resposta policial. Nenhum agente da polícia foi acusado pelos tiroteios. Em muitos aspectos, a polícia é mais violenta e incompetente do que nunca.
Refletindo honestamente sobre os últimos dez anos, é evidente que a África do Sul falhou em encarar o legado do massacre. Afinal, Cyril Ramaphosa tornou-se presidente, apesar da sua conduta questionável na situação. Este é mais um triste reflexo da frágil reserva de liderança disponível.
Para muitos, o massacre foi o momento em que os antolhos foram removidos e as injustiças e contradições subjacentes que atrofiavam o avanço da democracia sul-africana foram reveladas em toda a sua brutalidade. A ausência de indignação pública após o massacre, a ausência de protestos em massa e de solidariedade continuam a ser uma vergonha, embora os trabalhadores do Cinturão de Platina tenham liderado uma das maiores greves na história da África do Sul.
Em grande parte por esta razão que, para a classe trabalhadora da África do Sul, Marikana se tornou um símbolo potente de resistência, utilizada por estudantes em protestos, por trabalhadores em greve e por comunidades que ocupam terras. Além da enorme onda de greves que cruzou o Cinturão de Platina, também propiciou o nascimento oficial do Economic Freedom Fighters, lançado em 13 de outubro de 2013 em Marikana, que se apresenta como o verdadeiro partido dos trabalhadores (é atualmente o terceiro maior partido no parlamento da África do Sul). Mas enquanto o EFF tentou se apresentar como o partido com a bússola moral mais forte em questões de justiça socioeconômica; a saga de pilhagem do banco VBS revela que, assim como o ANC que tão veementemente criticam, os altos funcionários do EFF estão dispostos a roubar milhões de pessoas pobres para financiar os seus estilos de vida extravagantes. No entanto, as greves de Marikana continuam a influenciar e inspirar outros movimentos, como as greves dos trabalhadores agrícolas em De Doorns, no Cabo Ocidental, em 2012-13, que galvanizaram mais de 9.000 participantes na sua missão de melhorar suas condições de trabalho.
Como vimos sobretudo no caso da Colômbia, tratada em uma nova série de A África É um País sobre as lições da América Latina para o continente africano, a resistência e a organização podem forjar o poder mesmo sob a ameaça das formas mais extremas de repressão política. As ações dos mineiros de Marikana demonstraram que eles buscam uma vida melhor, tal como prometido na Constituição, e não apenas aumentos salariais simbólicos de um ou dois por cento. Marikana mostra que mesmo nas circunstâncias mais difíceis é possível obter mobilização e organização eficazes, já que os trabalhadores nas outras minas do Cinturão de Platina optaram por aderir e expandir a greve em vez de lamentarem em silêncio ou se renderem. É este momento extraordinário que proporciona um grito de mobilização para quem deseja ver uma África do Sul mais justa e igualitária.
Benjamin Fogel é editor colaborador de Africa is a Country e de Jacobin.
A dra. Claire-Anne Lester é professora de sociologia na Universidade Stellenbosch.
Foto: Stanislav Lvovsky / Flickr