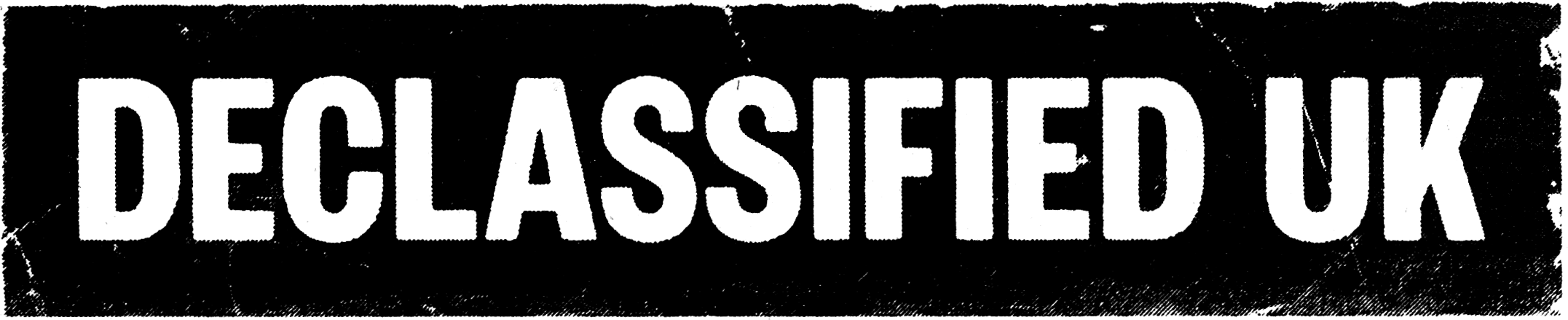O texto a seguir é um extrato editado do livro Silent Coup: How Corporations Overthrew Democracy [Golpe silencioso: como as corporações derrubam democracias], lançado no mês passado pela editora Bloomsbury Academic.
Como muitos dos nossos colegas que se dirigiam aos festivais de música no verão, levantamos de madrugada e pegamos um trem saindo de Londres. Também estávamos a caminho de um evento que reuniria milhares de pessoas. Iríamos ver uma apresentação em particular, e estávamos ansiosos para saber se conseguiríamos bons lugares perto do palco.
Mas não haveria poças de lama nem galochas onde estávamos indo: o Festival Internacional Festival de Negócios de 2014, no norte de Liverpool. O seu principal patrocinador - o governo conservador do então primeiro-ministro David Cameron - anunciara o evento como "a mais importante vitrine de comércio internacional do Reino Unido desde 1951".
Seria "uma excelente oportunidade para as empresas criarem novas parcerias comerciais internacionais", segundo Cameron. "Não poderia haver um anfitrião mais adequado do que Liverpool", acrescentou, já que a cidade "havia impulsionado a Grã-Bretanha durante a Revolução Industrial".
Isso estava correto: no século XIX, a cidade portuária foi um centro importante para a indústria e o comércio internacionais e, por um período, a sua riqueza rivalizou com a de Londres. Contudo, grande parte da sua prosperidade da cidade foi movida por um dos negócios mais condenados da história: a escravidão. No século XVIII, os seus navios transportaram cerca de 1,5 milhão de africanos pelo Atlântico. Durante décadas, a escravidão foi responsável por entre 30% e 50% do comércio de Liverpool.
Foi uma barbárie organizada. O "comércio triangular" internacional enviava mercadorias como produtos têxteis e armas das fábricas britânicas à África; escravos à América e ao Caribe; depois açúcar, algodão e rum de volta para a Europa. Bancos e indústrias se multiplicaram para responder à "oportunidade" desse comércio. Liverpool cresceu.
Essa história segue ecoando em alguns nomes de ruas da cidade. Acredita-se que Penny Lane, que os Beatles tornaram famosa, se refira ao proeminente mercador de escravos James Penny. Outras ruas receberam nomes de abolicionistas. Hoje, os armazéns restaurados nas docas históricas de Liverpool agora abrigam o Museu Internacional da Escravidão. Para lá nos dirigimos, o mais rápido possível, quando o trem chegou à cidade.
Nosso destino, o Edifício Cunard, foi construído durante a Primeira Guerra Mundial como sede de uma empresa cujos luxuosos navios a vapor de passageiros cruzavam os mares transportando as elites. A decoração do edifício foi parcialmente inspirada nos palácios italianos, com mármore importado da Toscana. Subimos as imponentes escadas de pedra que levam à entrada principal do edifício.
'Estamos aqui para ajudar'
O programa de várias semanas do Festival Internacional de Negócios teve sessões que atendiam a empresas e empresários de setores específicos, do transporte marítimo à educação, bem como a quem desejava se expandir em regiões específicas do mundo. Muitos desses eventos, inclusive este ao qual tínhamos vindo, são organizados por funcionários do governo do Reino Unido.
Entramos em um salão de baile histórico, com detalhes de época e tetos abobadados. Homens de terno e gravata estavam sentados em volta de mesas redondas com toalhas brancas imaculadas. Vimos dois assentos vazios, sentamo-nos e sorrimos. Nossa mesa ficava bem perto do palco.
"Quanto vale?", perguntou um homem que logo apareceu no pódio.
Respondendo à sua própria pergunta, ele disse que por aí havia "de 70 a 100 bilhões de dólares em negócios", ao que algumas pessoas na sala aplaudiram. Ele sorriu.
Esta quantia era enorme, e comparável ao tamanho estimado dos mercados globais de segurança cibernética, ou de publicação de revistas. Porém, o evento estava focado em um comércio do qual poucas pessoas já ouviram falar.
Nigel Peters era o homem no palco. Na época, ele era chefe de uma unidade governamental pouco conhecida denominada Aid-Funded Business Service [Serviço de Negócios Baseados em Ajuda Humanitária ], criada para ajudar empresas britânicas a obter contratos financiados por dinheiro público para ajudar as populações mais pobres do mundo.
"O negócio do desenvolvimento e da ajuda humanitária existe, é um negócio significativo, e estamos aqui para ajudá-los a ganhar parte dele", disse ele à sala, de pé, junto a uma tela com um slide projetado com os nomes de diferentes agências - como agências das Nações Unidas, o Banco Mundial e departamentos governamentais dos EUA e do Reino Unido.
"Bem-vindos ao mundo dos negócios baseados em ajuda humanitária", disse ele, radiante.
"Enxergamos diversas oportunidades de negócios no trabalho de manutenção da paz, alívio da fome, alívio de desastres e ajuda emergencial da ONU", explicou Peters, e deu exemplos: "Há muitas boas oportunidades, para quem trabalha com produtos, no combate à fome e na ajuda humanitária em situações de desastres causados pelo homem, como os que vemos hoje em países como a Síria e o Iraque e seus campos de refugiados e, é claro, nos casos de desastres naturais."
Os homens à nossa volta bateram palmas novamente. Era impressionante que essas crises, que envolviam mortes e o deslocamento de muitas pessoas, parecessem ser motivo de alegria.
'Fator de bem-estar'
Eleanor Baha, sua colega, também parecia animada quando subiu ao palco. Baseada em Genebra, em meio a um dos maiores grupos de agências das Nações Unidas, ela foi descrita como "adida" do Serviço de Negócios Financiado pela Cooperação do Reino Unido.
"Por que você deveria prestar atenção nos negócios da ONU? Qual seria o objetivo?", perguntou ela, e respondeu: "Bem, para vocês, como empresas, trata-se de um bom mercado de exportação".
"Definitivamente há um fator de ‘bem-estar’ que as empresas podem obter ao trabalhar nesse setor", prosseguiu, mas "talvez o mais importante seja a certeza de que serão pagos... A ONU só faz negócios com empresas quando o orçamento está garantido".
Após a nossa viagem a Liverpool pegamos outro trem de Londres, dessa vez para Bruxelas, a capital não oficial da União Europeia, para ir à AidEx, que se autodenomina uma "importante plataforma para fazer networking, novos contatos e negócios".
Em um grande centro de convenções, centenas de homens de negócios se aglomeravam em torno de estandes de exposição, alguns bebericando taças de vinho. Nas mesas havia folhetos corporativos em papel brilhante e itens como pendrives USB estampados com os logotipos das empresas. Pendurados no teto alto havia faixas das principais empresas automobilísticas - Ford, Toyota, Volkswagen.
Nos stands, os representantes das empresas apresentavam produtos e serviços para uma série de siglas - de ONGs, agências governamentais como a USAID e organizações da ONU - que, juntas, gastam bilhões de dólares por ano em todo o mundo. Em oferta havia de tudo, de lonas a serviços de empresas de segurança privada. Em um café, os participantes estavam reunidos em pequenos grupos, comparando anotações sobre quem havia conquistado qual negócio no ano anterior.
Segundo a AidEx, a exposição no seu evento ajudou empresas a "divulgar suas marcas", "gerar novos contatos" e "obter serviços pessoais de relações públicas".
Um vídeo promocional de dois minutos no YouTube, com uma animada trilha sonora pop, ilustrava a questão. "Como vamos vender todos esses produtos?", pergunta uma personagem de desenho no vídeo. Uma lâmpada surge acima da cabeça de outra figura com a sugestão: "Por que não expomos na AidEx?" Caixas de transporte se acumulam na tela, e a personagem proclama: "Haverá compradores lá para comprar tudo ISSO!"
Não tínhamos ouvido falar muito da luta contra a pobreza mundial - a missão oficial dos gastos com a ajuda. No trem, de volta a Londres, nos perguntamos: por que o mundo dos negócios baseados em ajuda humanitária era tão desconhecido? A ajuda se dá com dinheiro do contribuinte, e os políticos costumam falar disso. Então, por que as empresas que visam esses orçamentos não costumam aparecer?
A realidade da cooperação
O que é uma ajuda humanitária? ‘Dinheiro doado para ajudar os mais pobres do mundo’, costuma-se dizer aos contribuintes que, em última análise, pagam a conta. Tanto os defensores quanto os críticos da cooperação pareciam falar sobre ela como se fosse a transferência direta de dinheiro dos países mais ricos aos mais pobres.
O jornal Daily Mail, por exemplo, um notório crítico de projetos de assistência, em 2014 lançou uma petição no Dia dos Namorados para que o governo "desvie parte dos 11 bilhões de libras gastos por ano em ajuda externa para aliviar o sofrimento das vítimas das enchentes britânicas". Um dos signatários, um romancista de Gloucestershire, comentou: "Damos milhões de libras em ajuda à Índia e à China e nunca gastamos com os nossos. Isto é ridículo".
Os oponentes de projetos de ajuda humanitária repetem sempre o mesmo argumento: que o Reino Unido estava errado em "dar", "enviar" e até mesmo "despejar" tanto dinheiro em outros países todos os anos. Os defensores da assistência pareciam usar uma linguagem semelhante, apresentando-a como uma espécie de sistema internacional de seguridade social que redistribui a riqueza dos ricos para os pobres. Os políticos também faziam isso rotineiramente, comprometendo-se a "dar" ajuda "a" países específicos.
Porém, tudo isso era mais complicado e, como vimos em Liverpool e Bruxelas, as empresas estavam entre os beneficiários desses orçamentos.
A verdade é que apenas uma pequena fração do dinheiro destinado à ajuda humanitária é transferida diretamente para governos ou grupos locais dos países mais pobres. Em vez disso, grande parte dele demorava um pouco para chegar aonde fosse, e passava por cadeias as vezes muito longas de empreiteiros e subempreiteiros. Longe de serem simples transferências de dinheiro, quando os doadores prometiam dinheiro para a ajuda, não havia nenhuma garantia de que ele chegaria aos países aos quais supostamente se “destinava”.
Havia regras escritas, supervisionadas pelo clube de países ricos da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) em Paris, para determinar quais gastos poderiam ser considerados assistência oficial ao desenvolvimento (AOD) - o termo formal para essa "ajuda humanitária".
Esses gastos deveriam ter como objetivo principal "promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar dos países em desenvolvimento". As regras eram detalhadas, mas elas permitiam que os doadores usassem os orçamentos de assistência para coisas impensadas.
Os governos doadores podiam “conceder” ajuda na forma de empréstimos, que seriam pagos com juros (ganhando dinheiro com isso). Eles podiam considerar o “alívio da dívida” como uma ajuda, mesmo em se tratando apenas de dívidas canceladas ou reescalonadas, e não de novos fluxos de dinheiro.
Segundo os dados da OCDE, milhões de libras em ajuda do Reino Unido nunca saíram do país mas, em vez disso, foram gastos em itens como treinamento militar para funcionários africanos e uma "visita de estudos" ao Reino Unido para funcionários norte-coreanos. Por anos, o Reino Unido contabilizou o pagamento de pensão a ex-oficiais coloniais como ajuda - a um custo de 2 milhões de libras só em 2017.
Tomadas de decisões inadequadas
“Apoio orçamentário" era o termo técnico da ajuda humanitária entregue diretamente aos governos de países pobres, que a administravam e gastavam diretamente. Em 2014, esse valor foi de 9,5 bilhões de dólares, menos de 6% do total de gastos com ajuda global naquele ano (que foi de 165 bilhões de dólares).
E o restante do dinheiro? A maior parte foi canalizada para uma rede de agências internacionais, ONGs, empreiteiras e subempreiteiras com fins lucrativos. Grande parte foi usada na compra de coisas ou serviços de empresas sediadas nos países ricos, e não nos mais pobres.
Aqui entram os negócios que vimos em Liverpool e Bruxelas. Para as empresas do setor, a crise humanitária parecia uma oportunidade, ao passo que a ajuda ao desenvolvimento servia como fluxo de receita estável e confiável.
As regras complexas que regem quais gastos podem ser considerados de cooperação tornam difícil comparar dois dólares para projetos de cooperação se não sabemos em detalhes como foram gastos. Um dólar pode ter ido diretamente para um governo pobre. O outro pode ter sido destinado a alguma empreiteira privada que forneceu bens ou serviços em troca de lucro.
Apesar disso, os políticos e os que criticam e apoiam ajudas humanitárias costumavam se concentrar em uma meta básica de gastos com cooperação de 0,7% da renda nacional bruta (RNB) anuais. Reendossada repetidamente nas cúpulas internacionais desde a década de 1970, essa meta se tornou a principal referência que mede a “generosidade” dos doadores.
Suécia, Noruega, Dinamarca e os Países Baixos cumpriram a meta na década de 1970. Luxemburgo os seguiu em 2000. O Reino Unido foi o único país do G7 a cumpri-la em 2013, quando o seu orçamento total de ajuda externa atingiu 11,4 bilhões de libras. Em 2015, o país fixou esta meta em lei (embora em 2021 a tenha reduzido para 0,5% do RNB, citando o impacto econômico da Covid 19).
Alguns especialistas argumentaram que essa era uma meta arbitrária e desatualizada, baseada em cálculos antigos dos valores que os países em desenvolvimento precisavam. O comitê seleto de desenvolvimento internacional do Parlamento do Reino Unido alertou que a pressão para cumprir as metas de gastos, não importa o que acontecesse, poderia resultar em tomadas de decisão inadequadas.
Porém, o foco nos 0,7% também parecia uma cortina de fumaça, uma forma de desviar a atenção para os números gerais do orçamento e deixar de lado os detalhes de como esse dinheiro é gasto.
Em 2015, seria lançada uma nova estratégia de projetos de ajuda humanitária no Reino Unido, priorizando explicitamente projetos de desenvolvimento no exterior e gastos que "fortalecessem oportunidades de comércio e investimento do Reino Unido". Cada vez mais, a ajuda seria destinada a projetos para redigir leis "favoráveis aos negócios" e apoiar investimentos privados em áreas que vão da infraestrutura à agricultura.
O envolvimento de empresas com fins lucrativos nos gastos do dinheiro de projetos de ajuda humanitária também parecia tornar mais difícil o acompanhamento do dinheiro ao seu destino. As orientações do governo diziam que as propostas dos negócios de cooperação deveriam incluir a discriminação das despesas gerais, os salários e as margens de lucro. Mas, se essas informações tiverem sido de fato coletadas, elas não foram publicadas e raramente vieram à tona.
Margaret e Mahathir
Quando morreu, em 2013, Margaret Thatcher teve um funeral cerimonial a um custo para os contribuintes de mais de 3 milhões de libras. A cerimônia ocorreu na Catedral de St. Paul, onde, poucos anos antes, o Occupy London havia armado um acampamento de protesto.
A rainha Elizabeth II foi apenas uma das diversas pessoas notáveis que compareceram ao funeral. Entre os convidados estrangeiros estava Mahathir bin Mohamad, que fora primeiro-ministro da Malásia na mesma época de Thatcher no Reino Unido, embora por muito mais tempo. Ele permaneceu no poder até 2003 e voltou ao cargo em 2018, aos 93 anos de idade.
Reparamos o nome dele na lista de convidados porque, um ano antes da morte de Thatcher, um ex-funcionário público sênior publicara um relatório interno sobre o escândalo de ajuda humanitária em troca de armas na barragem de Pergau, na década de 1990. Esse escândalo, por fim, levou à nova lei que "desvinculou" do Reino Unido dos interesses comerciais e garantiu que ela se concentrasse na redução da pobreza.
O escândalo se referia a trocas entre os governos de Thatcher e Mahathir e ao uso da ajuda do Reino Unido para uma nova represa hidrelétrica no rio Pergau, na Malásia com o fim de “edulcorar” contratos com empresas de armamentos, como a British Aerospace (que desde então passou a se chamar BAE Systems), a qual vendeu ao país dezenas de jatos militares.
O relatório interno, The Politics and Economics of Britain's Foreign Aid: The Pergau Dam Affair [A política e a economia da ajuda humanitária externa britânica: o caso da represa de Pergau] foi redigido por Sir Timothy Lancaster. Ele era funcionário público no Departamento do Tesouro quando o acordo foi fechado secretamente, e enviou um memorando particular aos seus superiores alertando que isso poderia "criar um grande constrangimento para os ministros e um desperdício de gastos públicos".
Posteriormente, ao assumir o cargo de secretário permanente da Overseas Development Administration (ODA), a agência responsável pelo orçamento de ajuda à época, ele desaconselhou o contrato.
Segundo Lancaster, o projeto não fazia sentido em seus próprios termos, e ele acreditava que havia maneiras mais baratas de a Malásia produzir energia. Ele tomou a atitude incomum de insistir em uma decisão ministerial formal antes de aprovar o orçamento, apontou que suspeitava que havia algo errado e, por fim, provocou uma série de investigações sobre o assunto por parte do escritório Nacional de Auditorias e dos principais jornais.
‘Devoto da privatização’
A capa do livro de Lancaster publicado em 2012 sobre este período traz uma foto dos dois primeiros-ministros no centro do escândalo, antes de ele estourar. Mahathir, da Malásia, com um terno cinza e gravata lilás, olha diretamente para a câmera. Thatcher, em um vestido preto, está ao seu lado. Os dois parecem relaxados, e numa mesa diante deles há duas xícaras de chá, deixadas (ou posicionadas) ali para indicar uma reunião amigável.
A foto foi tirada em abril de 1985, durante uma viagem de 10 dias de Thatcher pela Ásia, quando ela se encontrou com Mahathir e o elogiou publicamente por acreditar, como ela, nas "vantagens do sistema de livre iniciativa e na liberalização do comércio mundial".
Essa foi a primeira visita oficial de um primeiro-ministro britânico desde que a ex-colônia se tornou independente, em 1957. A visita foi posterior ao que ela chamaria mais tarde de "um início um pouco complicado" nas relações com Mahathir. Ele havia adotado a política explícita de “olhar para o leste” e havia dito que, a partir daquele momento, o seu país só compraria produtos britânicos "se fosse absolutamente necessário", demonstrando "uma preferência definitiva por fontes não britânicas".
Thatcher havia ido a Kuala Lumpur em um esforço para atrair Mahathir de volta. O seu discurso na cidade foi repleto de elogios à liderança dele. "Estou encantada por descobrir, Primeiro-Ministro, que o senhor também é um devoto da privatização e da redução do papel do Estado", disse. "Admiro a sua frase de efeito 'Malaysia Inc'".
Ela acrescentou: "Muitas das nossas empresas estão ansiosas para fazer mais negócios com a Malásia, e farei o possível para convencê-lo de todos os méritos das nossas empresas em particular".
Em uma coletiva de imprensa à parte naquela visita, ela mencionou especificamente a gigante britânica da construção Balfour Beattie, que mais tarde participou na construção da barragem de Pergau. Ela também mencionou a Unilever, multinacional britânica gigantesca de bens de consumo, cujos produtos incluem salgadinhos e sabão, e cuja história iria mais tarde nos abrir uma janela única para o sistema de ajuda humanitária e desenvolvimento e seu funcionamento.
Quando inquéritos parlamentares começaram a investigar o "Caso da Represa de Pergau", Thatcher já havia deixado o governo e a Câmara dos Comuns, embora continuasse a fazer lobby para grandes empresas. Segundo consta, ela recebia 50.000 dólares por discurso e trabalhava, por exemplo, como "consultora geopolítica" da empresa de tabaco Philip Morris. Ela teria sido uma testemunha óbvia no inquérito sobre a Pergau, mas se recusou a prestar depoimento.
Na Malásia, o "Caso da Represa de Pergau" levou a um novo boicote do setor público às empreiteiras britânicas. No Reino Unido, uma forte campanha da sociedade civil exigiu que ajudas humanitárias se concentrassem em acabar com a pobreza nos países em desenvolvimento, e não em apoiar as empresas no país.
Em 1994, uma ONG chamada World Development Movement (Movimento de Desenvolvimento Mundial) deu entrada em um processo histórico no Tribunal Superior do país contra a agência de ajuda humanitária do governo, alegando que a decisão de apoiar a represa de Pergau havia sido ilegal. O Tribunal concordou.
O escândalo tornou-se o principal argumento para a criação de uma nova agência de projetos de ajuda humanitária - o Departamento para o Desenvolvimento Internacional - com um cargo ministerial próprio. A Lei de Desenvolvimento Internacional, aprovada em 2002, exigiu que todos os gastos com ajuda humanitária do Reino Unido tivessem como foco principal a redução da pobreza. A ajuda humanitária foi formalmente "desvinculada" dos interesses comerciais do país, e abriu os contratos financiados pela ajuda à concorrência internacional.
Ajuda vinculada
Aprendemos que muitos doadores de ajudas humanitárias "vinculavam" parte dos gastos com a ajuda, restringindo oficialmente a concorrência por contratos a empresas sediadas em seus países. Nos EUA, um pequeno grupo de empreiteiras, com sede principalmente na área de Washington, DC, conhecido como "Beltway Bandits", dominou por muito tempo os negócios financiados pela USAID.
A ajuda alimentar dos EUA, que estava sob a alçada do departamento de Agricultura, apresentava padrão semelhante, em que um pequeno grupo de empresas dominava os negócios. Dentre elas estavam os grandes comerciantes de grãos Cargill, ADM e Bunge. Elas obtinham a maior parte dos contratos para fornecer trigo e outras commodities enviadas pelos Estados Unidos aos países mais pobres, em navios com bandeira americana. (O setor de transporte marítimo também se beneficiou).
Com o caso da represa de Pergau e as medidas tomadas posteriormente, o Reino Unido deveria ter agido de outra forma. Deveria comprar mais produtos e serviços localmente, nos países em desenvolvimento. Isto faria sentido, se o objetivo da ajuda fosse o desenvolvimento sustentável e de longo prazo, já que isto ajudaria as economias locais a crescer.
Contudo, em 2011, a ONG que liderou a contestação legal contra a cooperação envolvendo a represa de Pergau soou o alarme novamente, quando o então secretário de Desenvolvimento, Andrew Mitchell, supostamente vinculou a ajuda à Índia à pretensão de vender caças BAE Typhoon ao país.
Poucos meses antes do lançamento do livro de Lancaster, houve outra enxurrada de histórias na imprensa britânica sobre um pequeno grupo de consultores privados britânicos que recebiam salários de seis e até sete dígitos, pagos por contratos de ajuda humanitária multimilionários.
Em 2014, segundo os números do governo britânico, mais de 90% dos contratos continuavam indo para empresas britânicas (ou subsidiárias britânicas de empresas multinacionais). Isso às vezes era chamado - nos círculos especializados dos observadores da ajuda humanitária - de "assistência bumerangue".
Os contratos financiados pela ajuda do Reino Unido também estavam ficando maiores e mais difíceis para que as pequenas empresas pudessem concorrer. As empresas forneciam suporte diário, “assistência técnica” em projetos específicos e projetavam e entregavam programas enormes ao longo de vários anos. Cada vez mais, eram contratadas como “agentes de gerenciamento” que selecionavam e supervisionavam outros contratados. Elas também faziam pesquisas e avaliavam os resultados dos projetos de cooperação.
Descobriu-se que um grupo de apenas 11 empresas estava obtendo a maior parte dos contratos financiados pela ajuda do Reino Unido, e pareciam ter acesso especial ao Departamento de Desenvolvimento Internacional. O então alto funcionário Mark Lowcock escreveu, em um artigo para a revista Supply Management, que o seu departamento havia criado "uma arena de discussão franca" para desenvolver planos em conjunto com os seus "maiores fornecedores estratégicos".
Nenhum desses principais fornecedores pertencia a um país em desenvolvimento. A gigante multinacional de contabilidade PricewaterhouseCoopers estava entre eles, juntamente com grandes empresas de consultoria europeias. Muitas eram do Reino Unido, como a Adam Smith International, fundada em 1992 por admiradores de Thatcher e sua sede de privatização. Outra era a Crown Agents, empresa cuja história remontava a 1833.
De um império a outro
Ficamos intrigados com o fato de a Crown Agents ter nascido durante o colonialismo, e passamos a investigar a sua história. Em maio de 2003, um pequeno grupo de manifestantes se reuniu na Buckingham Palace Road, no centro de Londres. Distribuíram panfletos aos transeuntes e desfraldaram uma faixa com os dizeres: "Agentes da guerra e da ganância”. O alvo era essa empresa pouco conhecida. Ela ainda se dedicava a “facilitar o imperialismo", diziam eles, "na área obscura entre o Estado e os negócios que se tornou tão central na nova era do governo corporativo".
O que motivou o protesto foi o envolvimento da Crown Agents no Iraque, após a invasão dos EUA e do Reino Unido. Ela foi citada pela BBC, juntamente com a gigante americana da construção Bechtel, como parte de "um grupo bastante restrito de empresas internacionais" que desenvolveram a especialização em "limpezas pós-guerra". O Independent afirmou que ela se tornara "a primeira empresa britânica a obter um contrato no programa estadunidense de reconstrução do Iraque".
A Crown Agents era uma das maiores empreiteiras financiadas pela ajuda do Reino Unido. Provavelmente era também a mais antiga, tendo passado de comerciante do império no século XIX ao negócio do desenvolvimento “pós-colonial”. Em seu site, dizia que vinha "inovando desde 1833" e tinha uma longa história de "aceleração da autossuficiência e da prosperidade".
O Escritório do Crown Agents, como era conhecido anteriormente, fornecia os intermediários do império: se os governos coloniais precisassem comprar algo, ele providenciava. O Escritório estava sob a supervisão do secretário de Estado para as Colônias, mas operava de forma autônoma, gerenciando os investimentos coloniais e o fornecimento de todos os produtos não fabricados localmente, além de supervisionar projetos de construção, pagar salários e pensões.
David Sunderland, historiador de negócios britânico que escreveu um estudo aprofundado sobre os agentes intitulado Managing the British Empire, explicou como os negócios se expandiram entre o final do século XIX e o início do século XX, quando, por exemplo, a equipe cresceu, de cerca de 30 pessoas para mais de 460. Ela também terceirizou o trabalho para outros empreiteiros e empregou um agente portuário, uma empresa de embalagem e advogados.
Segundo Sunderland, inicialmente a estratégia consistia em fornecer serviços caros, mas de qualidade. No entanto, com o tempo, a empresa se tornou "mais preocupada com a maximização da renda". Começou a usar suas conexões com o governo do Reino Unido, segundo ele, "para influenciar a política em benefício próprio, levando à construção de ferrovias caras e antieconômicas, à emissão de empréstimos de alto custo e à compra de suprimentos caros".
Depois do império
Quando o império britânico entrou em colapso, a Crown Agents resistiu e se tornou uma corporação estatutária voltada ao setor de assistência internacional e desenvolvimento industrial. Em 1997, mais de 150 anos após a sua criação, foi privatizada e se converteu em uma empresa limitada (de propriedade integral de uma fundação, pelo menos por enquanto).
Na época da criação da Crown Agents, no início do século XIX, as "companhias de carta" - associações de investidores e comerciantes privados precursoras das corporações modernas - exploravam, comercializavam e colonizavam diferentes áreas do mundo. Provavelmente, a mais famosa foi a Companhia das Índias Orientais, que tinha bandeira própria e um exército privado duas vezes maior que o da Grã-Bretanha. Essa "empresa privada perigosamente desregulada", segundo William Dalrymple, que escreveu um livro a respeito, "executou um golpe corporativo sem paralelo na história", ao conquistar grande parte da Índia.
Essa empresa também assumiu o controle de partes do Sudeste Asiático e Hong Kong, enquanto outras colonizaram partes das Américas e da África. A Conferência de Berlim de 1884, que formalizou a “disputa pela África” colonial, as ajudou. Entre outras coisas, afirmou que a mera reivindicação do território não era suficiente para o reconhecimento internacional. Os colonizadores tinham que provar autoridade sobre as áreas que reivindicavam por meio da "ocupação efetiva". As empresas contratadas estavam dispostas e ansiosas para fazê-lo.
A partir de 1886, a Royal Niger Company reuniu os interesses britânicos na região do delta do Níger, no oeste da África. Ela tinha polícia, alfândega, tribunais e prisões próprios. No início do século XX, tornou-se parte da United Africa Company (UAC), mais ampla, e depois da Unilever, a multinacional britânica de "bens de consumo" que Thatcher mencionou no discurso na Malásia, na década de 1980, e que também viria a se envolver em projetos de desenvolvimento pós-coloniais.
Quando o império britânico acabou, aprendemos que sua infraestrutura não desapareceu. Em vez disso, parte dela parece ter sido reorientada - ou simplesmente rebatizada - sob a bandeira do “desenvolvimento”. O setor de cooperação tinha raízes muito profundas. Bem como o fato de as grandes empresas estarem entre seus beneficiários.
Investir no império
O primeiro-ministro do Reino Unido, Harold Macmillan, declarou, em um discurso de 1960 no parlamento da África do Sul, que "o vento da mudança está soprando neste continente e, gostemos ou não, o crescimento da consciência nacional é um fato político". Ele estava certo.
À época, o império britânico já havia perdido a Índia, o Paquistão e o que hoje são o Sri Lanka e Gana. Após quase quatro séculos de atividade colonial, ele entrou em colapso pouco mais de duas décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial.
"O surgimento dos nacionalismos coloniais após 1945 fez com que os formuladores de políticas fossem ultrapassados pelos acontecimentos", observou W. David McIntyre, historiador da Nova Zelândia que estudou este período. Mas estávamos encontrando muitas evidências que sugeriam que empresas, investidores e membros do governo que trabalhavam com eles sabiam o que estava por vir - movimentos populares incontroláveis pela libertação e independência de poderes irresponsáveis - e, ainda assim, começaram a planejar expansões continuadas.
Em 1946, por exemplo, antes da criação do Banco Mundial e suas diferentes filiais, o Reino Unido criou a sua “instituição financeira de desenvolvimento”, a CDC (inicialmente denominada Corporação de Desenvolvimento Colonial). Sua missão era melhorar "o padrão de vida dos povos coloniais, aumentando sua produtividade e riqueza". Trazer benefícios para a Grã-Bretanha, em meio a uma economia em dificuldades no pós-guerra, era outro objetivo claro.
Ao discursar em uma reunião de governadores coloniais pouco depois da fundação da instituição, Sir Stafford Cripps, então ministro de Assuntos Econômicos, disse que era hora de "forçar o ritmo" do desenvolvimento econômico colonial, e argumentou que o futuro do Reino Unido dependia "do desenvolvimento rápido e amplo dos nossos recursos africanos".
Após a Segunda Guerra Mundial a economia britânica estava em dificuldades, e o governo tomou enormes empréstimos dos EUA, os quais só foram integralmente pagos em 2006.
"Esse é o cenário mundial no qual a produtividade dos territórios coloniais deve ser vista", enfatizou Lord Trefgarne, o primeiro presidente do CDC, a um grupo de empresários em Liverpool, em 1948. Nesse contexto, ele insistiu que desenvolver as economias coloniais e aumentar as exportações de seus produtos era uma "política sólida".
Talvez não fosse surpreendente que o Reino Unido se beneficiasse das atividades internacionais de "desenvolvimento" desta nova instituição, já que ainda se tratava de um braço do império colonial. Porém, assim como os Crown Agents, ela não terminou junto com o império. Foi reposicionada para ajudar os países recém-independentes a se "desenvolverem", investindo em negócios.
Novas justificativas
A partir da década de 1950, o "desenvolvimento" tornou-se um tema dominante na publicidade corporativa na África, segundo Stephanie Decker, acadêmica britânica que o qualificou como uma "estratégia de publicidade" astuta. Mas foi uma tática particularmente importante, avalia ela, para empresas "que haviam estado intimamente associadas ao império britânico" e "precisavam encontrar uma nova justificativa para a sua presença contínua".
No governo do Reino Unido foi criada uma nova agência de ajuda humanitária no ministério de Desenvolvimento Ultramarino com a dissolução do Escritório Colonial, em meados da década de 1960. O CDC, por sua vez, foi renomeado Corporação de Desenvolvimento da Comunidade das Nações, embora ele em seguida tenha começado a investir também em países não pertencentes à Comunidade das Nações. Ele resistiu à iniciativa de privatização de Thatcher na década de 1980, e continuou sendo uma empresa pública depois que ela deixou o cargo.
Em 1999, o Parlamento britânico aprovou uma lei para transformá-lo em empresa de responsabilidade limitada - CDC Group plc - embora todas as ações ainda fossem de propriedade do governo. Anos depois, no entanto, as suas funções de gerenciamento foram divididas em duas novas empresas vendidas a proprietários privados, dentre eles ex-gerentes do CDC: Aureos, para fundos de capital de risco menores, e Actis, para o grosso do portfólio restante.
Essas mudanças geraram críticas de políticos e da mídia sobre os preços "impossivelmente baixos" pagos pelas cisões. Pouco depois, o então secretário de desenvolvimento Andrew Mitchell aplaudiu o êxito financeiro do CDC, mas afirmou que ele havia "se tornado menos diretamente engajado em atender às necessidades do desenvolvimento", e devia ser reformado.
Em 2011 foi lançado um novo plano de negócios, e o CDC voltou a fazer investimentos diretos - em vez de depender de intermediários para gastar o seu dinheiro - e anunciou que se voltaria para os países mais pobres. Anos depois, no entanto, ainda era mais fácil identificar os seus beneficiários de elite do que os impactos da ajuda para acabar com a pobreza em nível global.
'Domínio'
Em El Salvador, por exemplo, vimos um projeto construído por uma empresa que havia recebido "financiamento para o desenvolvimento" do CDC britânico. Estava localizado nos arredores da capital, San Salvador, detrás de grossos muros de concreto. Villa Veranda: um condomínio fechado de 34 acres com mais de 500 casas bege, marrom e rosa coral ao longo de ruas recém-pavimentadas com comodidades que incluem um campo de futebol e uma quadra de basquete - e grama verde e espessa, mesmo na estação seca.
As casas mais baratas desse enclave custavam a partir de 117.650 dólares, e exigiam uma renda familiar de pelo menos 2.000 dólares por mês. Isso as tornava inacessíveis para a maioria das pessoas no país, onde cerca de um terço da população vivia abaixo da linha de pobreza nacional, de 5,50 dólares por dia. "O fato de sermos uma empresa de construção dedicada exclusivamente à construção de casas para a classe média nos deu o domínio deste segmento", vangloriava-se o site da Avance Ingenieros, a empresa por trás do projeto.
A sua fortuna foi impulsionada por um número crescente de banqueiros, burocratas e empresários salvadorenhos, e pelo aumento do número de cidadãos que vivem no exterior e compram propriedades para as suas famílias ou a aposentadoria. Em 2004, a empresa recebeu um investimento de 3,3 milhões de dólares da instituição financeira de desenvolvimento CDC do Reino Unido.
O enclave claramente não estava voltado para os mais pobres do mundo, e seus projetos também foram criticados localmente devido à pressão que exerciam sobre os recursos hídricos. Os ambientalistas apontaram que o rápido desenvolvimento ao redor das florestas de San Salvador estava substituindo os “pulmões” da capital por concreto, asfalto e casas de luxo fora do alcance da maioria das pessoas.
Yanira Cortez, do escritório de direitos humanos do Estado, nos disse que "megaprojetos" como esse provocavam "impactos graves no meio ambiente e nos recursos hídricos, e não respeitavam os direitos das gerações futuras".
Um grupo local próximo a Villa Veranda, o Comitê de Defesa Ecológica do Noroeste de Santa Tecla, também alertou que esse empreendimento específico poderia ameaçar o abastecimento de água local, a biodiversidade e a qualidade de vida das comunidades próximas.
Em resposta, a empresa disse ter modificado o seu plano e reduzido o número de casas, incluído mais espaço verde e investido centenas de milhares em programas sociais locais. Contudo, Edith Tejara, da Acua, ONG ambiental salvadorenha, nos disse que ainda era chocante o fato de que uma verba de desenvolvimento internacional tivesse apoiado condomínios fechados como estes.
"A história nos ensinou que sempre que se constrói um shopping center ou condomínio fechado, a água é priorizada para eles, e não para a população local", afirmou.
"O que me surpreende", concluiu, "é a ideia que eles têm do desenvolvimento".
Claire Provost é co-fundadora e co-editora do Institute for Journalism and Social Change, uma entidade sem fins lucrativos.
Matt Kennard é diretor de investigação no Declassified UK. Ele foi associado ao Centre for Investigative Journalism in London, onde depois assumiu o cargo de diretor.
Foto: UK Government