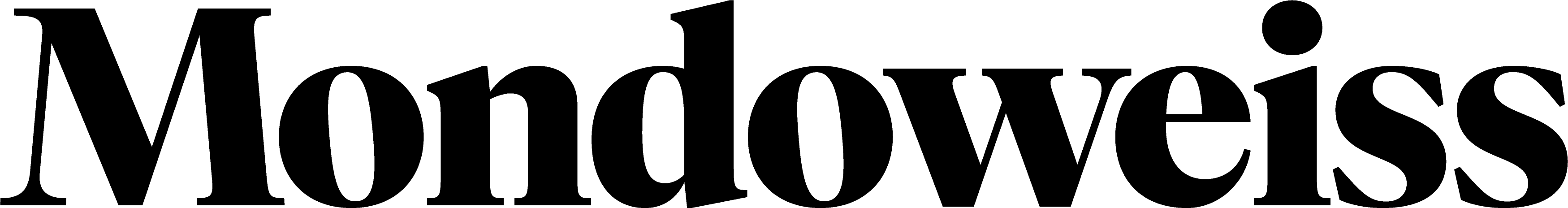Nota do editor: esta é a versão resumida do artigo originalmente publicado na nossa parceira The Nation. Você pode ler a versão completa, em inglês, aqui.
Pelo menos quatro homens armados com facões e paus invadiram a casa de Anne Johnson. Eles forçaram o marido dela e o filho de 11 anos a irem para um quarto e mantiveram Anne e as filhas adolescentes num quarto separado. Até hoje, ela não sabe com certeza se os homens que estupraram a si, o marido e as filhas eram seus colegas de trabalho. “Eles falavam a língua local”, Anne testemunhou, mas “nos vendaram para que não pudéssemos ver quem eles eram”.
Em 2007, quando o ataque aconteceu, Anne e o marido, Makori (os nomes são fictícios para proteger a família de retaliações), viviam e trabalhavam há mais de uma década numa fazenda de chá no Quênia pertencente à Unilever, a gigante sediada em Londres conhecida por marcas como Chá Lipton, Dove, Axe, Knorr e o sorvete Magnum. Em dezembro daquele ano, centenas de homens da cidade vizinha de Kericho espancaram, mutilaram, estupraram e esquartejaram moradores da fazenda durante uma semana de terror.
Os atacantes mataram pelo menos 11 moradores da fazenda, incluindo Makori, que foi estuprado e ferido mortalmente diante do filho e de uma filha de Anne. Eles saquearam e incendiaram milhares de casas, e feriram e abusaram sexualmente de um número desconhecido de pessoas, as quais foram alvos devido à sua identidade étnica e uma suposta filiação política.
Uma eleição presidencial contestada provocou a violência. O candidato favorecido pela população de Kericho - abertamente apoiado por vários diretores da Unilever - perdeu para um político com o suposto apoio de grupos minoritários. O massacre não ficou restrito à fazenda ou a Kericho. Mais de 1.300 pessoas morreram no Quênia em consequência da violência após a eleição.
A Unilever afirmou que os ataques à sua fazenda tinham sido inesperados, e, por isso, não deveria ser responsabilizada. Mas, segundo testemunhas e ex-diretores da corporação, os próprios funcionários da empresa incitaram e participaram dos ataques. Eles apresentaram estas alegações em 2016, em testemunhos por escrito, depois que o caso foi enviado a uma corte de Londres. Anne e outros 217 sobreviventes querem que a Unilever Quênia e a matriz no Reino Unido paguem reparações. Entre os reclamantes há 56 mulheres que foram estupradas e sete parentes de pessoas assassinadas.
Em centenas de páginas de testemunhos oculares e outros documentos do tribunal e nas entrevistas que fiz, os sobreviventes relatam que conforme a eleição se aproximava, seus colegas ameaçavam atacá-los se o candidato errado ganhasse. Quando eles informaram as ameaças os seus superiores, estes as descartaram e, por sua vez, fizeram ameaças veladas ou comentários depreciativos.
Ex-diretores da Unilever Quênia admitiram no tribunal que a diretoria mais alta da empresa, inclusive o então diretor-geral Richard Fairburn, discutiu a possibilidade de violência eleitoral em várias reuniões, mas só reforçaram a segurança para os executivos mais importantes, as fábricas e os equipamentos.
A Unilever Quênia insiste que não é responsável, e culpa a polícia por agir muito lentamente. Enquanto isso, a matriz em Londres continua dizendo que não deve nada aos trabalhadores e as vítimas devem processar a empresa no Quênia, e não no Reino Unido. Mas os trabalhadores dizem que um processo no Quênia pode provocar mais violência, inclusive de quem já os atacou antes, alguns dos quais ainda trabalham na fazenda.
Em 2018, um juiz no Reino Unido decidiu que a sede da Unilever em Londres não poderia ser responsabilizada pelas falhas da subsidiária queniana. Agora, Anne e seus ex-colegas recorrem ao Grupo de Trabalho para Negócios e Direitos Humanos da ONU, que deve decidir nos próximos meses se a Unilever falhou em seguir as diretrizes das Nações Unidas sobre responsabilidade corporativa. Como Anne me explicou, “A empresa prometeu que cuidaria de nós, mas não cuidou, então agora deve nos compensar para que possamos finalmente reconstruir as nossas vidas”.
A montanhosa fazenda de chá da Unilever, no Vale Rift, tinha aproximadamente 13.000 hectares em 2007. Com uma população de cem mil pessoas, incluindo vinte mil trabalhadores residentes e suas famílias, além de escolas locais, postos de saúde e infra-estrutura social, o local funciona como uma cidade corporativa e cosmopolita: os trabalhadores provêm de várias etnias do país.
A família Johnson vem de Kisii, um condado a duas horas da propriedade da Unilever, e se identifica etnicamente como kisii. Na fazenda, os kisiis são quase a metade dos residentes, mas na cidade próxima de Kericho - terra natal do grupo étnico Klenjin - eles são minoria. Muitas pessoas em Kericho olham com desdém para os kisiis e outros “forasteiros”. A fazenda refletia esta divisão: os kalenjin eram principalmente supervisores, e os kisiis e outras minorias trabalhavam principalmente como coletores de chá.
O casal passou o último domingo de dezembro de 2007 como fazia em qualquer outro dia - no campo, com uma cesta nas costas - embora soubesse que a noite seria tensa, já que os resultados da eleição seriam divulgados no final da tarde. Mais cedo, naquela semana, milhões de quenianos foram às urnas para escolher entre Raila Odinga, que liderava o Movimento Democrático Laranja (ODM), e Mwai Kibaki, do Partido da Unidade Nacional (PNU), como o novo presidente.
Anne não votou. Semanas antes, havia pedido uma licença para viajar a Kisii, onde estava registrada para votar, mas o seu supervisor negou a licença, ela disse. Isto era comum entre membros de minorias, explicou Daniel Leader, advogado e sócio da empresa de advocacia de Londres Leigh Day, que representou os sobreviventes no tribunal, e cuja equipe entrevistou todos os 218 reclamantes.
As eleições iminentes exacerbaram as tensões entre os supervisores kalenjin da Unilever e os trabalhadores kisii. “Eles presumem que nós, kisiis, apoiamos Mwai,” Anne explicou, ao passo que os kalenjin locais eram majoritariamente pró-Odinga.
Nas semanas que antecederam a eleição, sobreviventes contam que funcionários do ODM transformaram as fazendas de chá em ferozes espaços pró-Odinga, organizando comícios políticos e encontros estratégicos dentro da propriedade. Anne me disse que a presunção de que os kisiis apoiavam Kibaki levou alguns kalenjins a tratá-los com hostilidade. Ela contou que os líderes de equipes, por exemplo, começaram a transferir seu trabalho para trabalhadores que não fossem kisii. Outros colegas pararam de falar com ela. Para sua angústia, ela encontrou folhetos com lemas de ódio como “Forasteiros, voltem para casa” em áreas residenciais, fazendo-a temer que “algo ruim pudesse acontecer depois da eleição”.
Anne estava com medo, mas ficou quieta. “A empresa é tão grande. Achei que iria nos proteger”, explicou. Os que tinham menos certeza e pediram proteção aos seus supervisores e diretores toparam com indiferença, segundo os sobreviventes. Em testemunho no tribunal, muitos contaram que vários diretores ignoraram os seus pedidos por mais segurança ou os dispensaram dizendo “é só política”. Outros diretores instruíram os trabalhadores preocupados a fazerem pressão e votarem por Odinga, pois seriam “forçados a sair” se não o fizessem.
Um diretor admitiu ao tribunal em Londres que a diretoria sênior da Unilever Quênia - incluindo Fairburn, o diretor-geral - estava ciente de que “haveria agitação e a fazenda poderia ser invadida”. Eles discutiram a necessidade de segurança extra em pelo menos três reuniões em dezembro, admitiu. Mas a diretoria tomou medidas apenas para “assegurar as propriedades da empresa, fábricas, maquinário, depósitos, estações de energia e as residências dos diretores”, porém, “nada foi feito para reforçar a segurança das residências dos trabalhadores e para protegê-los”. Outro diretor corroborou esta afirmação.
Fairburn, que em teoria estava presente, se recusou a comentar as reuniões quando liguei para ele. Até hoje a Unilever alega que não tinha como prever os ataques, embora a imprensa no Quênia e internacional, como BBC, Al-Jazeera, The New York Times e Reuters tivesse feito reportagens sobre a violência étnica iminente.
“Quem soubesse qualquer coisa sobre a eleição queniana de 2007 sabia que ela tinha potencial para acabar em violência generalizada, e que ela aconteceria, em sua maior parte, de acordo com a identidade e filiação”, disse Tara Van Ho, professora de direito e direitos humanos na Universidade de Essex. Tanto a Unilever Quênia como a matriz em Londres deveriam saber que os trabalhadores e suas famílias estavam em risco, afirmou. Para protegê-los, argumentou, a empresa deveria ter contratado segurança extra, treinado os agentes de segurança e os diretores e reforçado as construções ou evacuado os residentes no período imediatamente próximo da eleição.
Ao invés disso, comentou Leader, o advogado londrino dos trabalhadores, a Unilever “criou uma situação onde [estes empregados] ficaram paralisados - em risco por causa da sua etnia”.
Enquanto isso, o diretor-geral da Unilever Quênia e outros executivos tiveram feriados antes da crise, de acordo com ex-diretores, e a empresa evacuou os demais diretores e expatriados em jatos particulares assim que a violência começou.
Quando a notícia da vitória de Kibaki chegou, no domingo à noite, Anne estava preparando o jantar com a família. Pouco depois, ouviu pessoas gritando do lado de fora e entendeu que estavam em perigo. “Rapidamente trancamos as portas”, disse.
Naquela noite, centenas de homens armados com facões, paus, latas de querosene e outras armas invadiram a fazenda. Saquearam e incendiaram milhares de casas dos kisiis - que foram marcadas com um X - e atacaram os moradores.
As atas do tribunal relatam a história angustiante que aconteceu na fazenda durante a semana seguinte. Pessoas foram estupradas coletivamente e violentamente espancadas, e viram seus colegas serem queimados vivos. Quando fugiram procurando segurança nas plantações de chá, os agressores os perseguiram com cachorros.
“Não sabemos o total de pessoas que foram estupradas, mortas ou permanentemente incapacitadas”, disse Leader. Ele acha que os 218 reclamantes que representa não são as únicas vítimas sobreviventes. “Muitas pessoas estão com muito medo de vinganças ou de novos ataques dos colegas, ao lado dos quais continuam a trabalhar”, explicou.
A preocupação com novos atos de violência foi uma das razões para os sobreviventes decidirem processar a Unilever no Reino Unido. A outra foi que o escritório Leigh Day os representa gratuitamente, ao passo que no Quênia eles não teriam condições de custear os advogados.
Leigh Day argumenta que os seus clientes quenianos têm o direito de processar a Unilever em Londres, já que o país permite que trabalhadores de subsidiárias de empresas com sede no Reino Unido os processem se puderem demonstrar que a empresa matriz teve um papel ativo no controle das atividades diárias da subsidiária. A Unilever, argumenta, claramente teve este papel.
Ainda assim, os advogados da Unilever insistiram em que as vítimas abrissem processos no Quênia e sugeriram que se organizassem para levantar fundos com a ajuda de amigos e familiares.
Várias vítimas disseram que reconheceram colegas da Unilever como seus agressores . Uma mulher disse ao tribunal que foi atacada por cinco colegas, cujos nomes citou . Os homens "começaram a bater com uma barra de metal nas minhas costas e nas minhas pernas e iriam me estuprar ", ela testemunhou por escrito, até que "um vizinho kalenjin que era enfermeiro interveio para parar o ataque ".
No tribunal, a Unilever negou que seus próprios funcionários tivessem participado dos ataques. Porém, quando os seus representantes foram questionados sobre como a empresa sabia disso, ela se negou a continuar respondendo sobre o assunto.
Depois que os agressores saíram, os Johnson fugiram e se esconderam nas plantações de chá por três noites, e depois foram até a delegacia de polícia, cobertos de lama e sangue. De lá os policiais os escoltaram até um local seguro, e a família conseguiu escapar para Kisii, onde possuía um pequeno pedaço de terra. Sem recursos, eles não podiam arcar com os custos do hospital para a filha mais velha, que sofreu diversos ferimentos e enfraquecia a cada dia, nem para Makori, que teve uma hemorragia interna. Nos meses seguintes ambos morreram na sua casa de taipa em Kisii.
Anne contou que o único comunicado que recebeu da Unilever desde os ataques foi um convite para retornar ao trabalho, meses depois, e uma oferta de US$ 110 em compensação. A carta sugere que este valor havia sido definido e pago pela matriz da Unilever em Londres.
“Em nome de toda a família Unilever Tea Kenya Ltd”, diz a carta, “ agradecemos à Unilever pela compreensão e suporte moral e material, e esperamos que este gesto pontual faça muito para trazer a normalidade de volta aos nossos empregados e seus familiares”.
Anne me disse que nunca voltou à fazenda porque não pode deixar o filho, agora com 20 e poucos anos. “Ele começou a ter convulsões sérias e ataques de pânico depois do ocorrido, e precisa de cuidados constantes”, disse. Muito traumatizados e sem conseguir o tratamento psicológico necessário, o filho e a filha deixaram a escola. “Vivemos de doações de parentes e vizinhos, e do milho que plantamos no nosso terreno”, disse.
Os reclamantes dizem que a Unilever lhes deve indenizações de peso, mas a empresa insiste em que já os indenizou. O seu porta-voz me garantiu que entregou a todos os funcionários que retornaram à fazenda dinheiro e mobílias novas, e também que ofereceu gratuitamente serviços médicos e psicológicos. Mas não disse quanto a empresa pagou nem comentou sobre a carta que Anne me mostrou.
No verão de 2018, Anne e um grupo de vítimas refutaram estas afirmações numa carta a Paul Polman, CEO da empresa na época: “Não é correto o que a Unilever disse sobre ter nos ajudado, quando sabemos que isso não é verdade”, dizia a carta. Continuava: “A Unilever quer apenas que voltemos a trabalhar como se nada tivesse acontecido [e aos que voltaram ao trabalho] lhes foi pedido que não falassem sobre o assunto. Ainda estamos assustados sobre sermos punidos se falarmos sobre a violência.”
A Unilever afirma que, após o período violento, cada empregado foi “recompensado em espécie” pela perda do salário e que recebemos itens em substituição aos que foram roubados, ou dinheiro para comprá-los… mas os que tinham muito medo deretornar receberam KES 12.000 (US$ 110,00), pouco mais de um mês de salário, e um pouco de milho, que foi deduzido do nosso salário. Disseram-nos que se víssemos alguém com os nossos pertences não deveríamos dizer nada.
Polman aparentemente não respondeu à carta.
Segundo as leis do Reino Unido, uma empresa matriz só pode ser responsabilizada por problemas de saúde e segurança nas suas subsidiárias quando exerce um alto grau de controle sobre as políticas de segurança e gerenciamento de crises.
Para provar no tribunal do Reino Unido que a empresa matriz tinha estel grau de controle sobre a Unilever Quênia, os advogados da Leigh Day enviaram testemunhos por escrito de ex-empregados, os quais confirmaram as visitas frequentes de diretores de Londres, e também de quatro ex-supervisores que apresentaram evidências de que a matriz moldava, supervisionava e auditava as políticas de gerenciamento de crise e segurança na Unilever Kenya e, inclusive, havia tornado os protocolos de segurança compulsórios. Isso significava, como afirmou um ex-diretor com mais de quinze anos na empresa, que a Unilever Kenya era “forçada a seguir estritamente as políticas e procedimentos ditados pela Unilever Plc”. Outro ex-diretor disse que “listagens e políticas detalhadas de Londres deviam ser cumpridas, ou alguém seria demitido ou sofreria uma punição”.
Estes testemunhos parecem apoiar a alegação da Leigh Day de que a sede londrina compartilhava responsabilidades. Contudo, para prová-lo em juízo, os advogados precisam ter acesso ao texto dos protocolos descritos pelos diretores. Entretanto, como se trata de procedimentos pétreos - o que significa que o tribunal não tem a jurisdição aceita - a Unilever não tinha a obrigação de revelar materiais relevantes, e poderia simplesmente se negar a entregar os documentos.
A decisão do juiz deixou claro que a “fragilidade” das provas teve papel preponderante na sua decisão de negar aos quenianos o direito ao processo. Juristas de direitos humanos e advogados de responsabilidade corporativa condenaram a decisão. O tribunal criou uma armadilha para os trabalhadores, Van Ho observou: “Os reclamantes não tinham acesso aos documentos que mostravam que a Unilever Reino Unido fez algo errado enquanto não pusessem as mãos nos documentos que provavam que a Unilever Reino Unido havia feito algo errado”. É “atordoante”, disse, e “uma expectativa injusta de que os empregados tenham tão menos poder do que a empresa multibilionária que os empregava”.
Anne conta que permanece esperançosa de que os ativistas de direitos humanos internacionais apoiem o seu caso. Junto com outras vítimas, ela recentemente abriu um processo contra a Unilever junto às Nações Unidas, argumentando que a empresa violou os Princípios Orientadores das Nações Unidas para Negócios e Direitos Humanos. Um dos seus requerimentos é que as empresas devem ter certeza que as vítimas de abusos dos direitos humanos nas suas cadeias de produção tenham acesso a indenizações. Van Ho entende que o Conselho da ONU, que deve chegar a uma decisão logo, vai concordar que a Unilever quebrou esses princípios. “Esconder-se detrás de brechas na lei e recusar-se a revelar informações importantes para evitar o pagamento de indenizações é exatamente o oposto do que indicam os Princípios”, afirmou.
Embora as Nações Unidas não possam forçar a Unilever a pagar, Anne espera que o caso gere a atenção e pressão públicas necessárias para empurrar a empresa nessa direção. Ao ser perguntada sobre o que significaria para ela o sucesso dessa jornada dos trabalhadores, ela declarou: “seria o melhor momento da minha vida”.
Maria Hengeveld é jornalista investigativa com foco em direitos dos trabalhadores e responsabilidade corporativa, e é pesquisadora PhD com uma bolsa Gates no King’s College em Cambridge.
Foto: Bryon Lippincott / Flickr